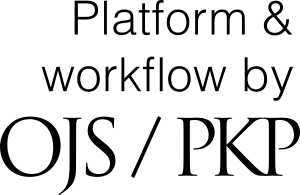Chamada para dossiê 'Histórias e dilemas da videoarte' até 8 de julho
Patrícia Mourão de Andrade, Bia Morgado e Darks Miranda*
O vídeo, inicialmente desenvolvido como tecnologia de transmissão para o sistema televisivo, passou por transformações radicais desde seu lançamento, há mais de 70 anos, no mercado doméstico, quando deixou de ser um privilégio exclusivo de corporações de mídia. Durante a segunda metade do século passado, na condição de mídia alternativa ao filme, foi amplamente utilizado por artistas e ativistas como uma ferramenta crítica contra as representações da televisão corporativa e estatal. Com o passar dos anos, porém, o vídeo – em sua manifestação digital – se tornou uma infraestrutura mundana de circulação, presente em praticamente todas as esferas da vida social.
A natureza polivalente do vídeo coloca problemas historiográficos e teóricos: a partir de onde narrar e como dar conta dos diversos usos e meios de circulação do vídeo? Datam do final dos anos 1970 as primeiras tentativas de estabelecer uma história e um quadro crítico para o que ficou conhecido como videoarte – expressão hoje insuficiente para dar conta da multiplicidade de técnicas e práticas ligadas ao vídeo no campo da arte, mas que, naquele momento, atendia bem ao esforço de institucionalização da prática.
Em busca de legitimar a mídia como meio artístico, boa parte da crítica e, posteriormente, da história da arte (na Europa, Estados Unidos e Brasil), se esforçará para enquadrar o vídeo entre duas concepções de arte: uma mais purificada, de matriz modernista (sobretudo a americana, greenberguiana), na qual se privilegiam as investigações autorreflexivas sobre a natureza material da mídia; e uma outra mais plural, de matriz conceitual, e indissociável da crise do modernismo, na qual o vídeo assume uma função crítica e desconstrutiva em relação aos processos, discursos e representações da mídia (em especial da TV) e do próprio campo da arte.
De caráter panorâmico – e por sua própria natureza mais abrangente, pouco empenhadas em uma reflexão sobre os princípios que norteiam a construção do discurso historiográfico, ou sobre os valores que orientam a formação do cânone – as histórias ou antologias das primeiras décadas da videoarte são surpreendentemente consensuais. Quase todas elencam, sem grandes variações, as mesmas condições de possibilidade (o barateamento da tecnologia, a entrada no mercado caseiro), os mesmos nomes, pioneiros (Nam June Paik, Wolf Vostell, Bruce Nauman, Vito Acconci, etc), eventos e obras. Quase todas percebem o vídeo como uma mídia democrática, acessível, e, chamando a atenção para a sincronicidade de momentos de ebulição no Japão, Alemanha e Estados Unidos, celebram a videoarte como um fenômeno internacional.
Produtos de seu tempo (e, portanto, das práticas institucionais, formações discursivas e sistemas valorativos desse tempo), esses textos são, do ponto de vista do presente, saturados de pontos cegos. A ideia de democratização não é questionada; fica subentendido que, no Recife ou em Nova York, artistas tiveram a mesma facilidade para acessar câmeras, ou ainda que, mesmo em um lugar como os Estados Unidos, qualquer um, com os meios que fossem, poderia ter uma câmera à mão. Tampouco se problematiza a ideia do internacionalismo da videoarte, o que exigiria um olhar mais atento para o modo como países fora do centro usaram a mídia do vídeo para refletir sobre o seu lugar na dinâmica geopolítica da arte. Além disso, os usos ativistas, comunitários e documentais da mídia, mal adaptados aos quadros teórico e histórico da vanguarda e da arte moderna (sustentadas em pilares da experimentação formal e autoria), foram desprivilegiados. (BALSOM e PELEG: 2022; Blom: 2013; HAYDE: 2016).
Com um foco transnacional em usos não hegemônicos do vídeo, e interessadas nas perspectivas que eles abrem à história da arte, convidamos propostas com:
- Exames críticos sobre a historiografia do vídeo, em particular da videoarte;
- Análises sobre os processos de legitimação e institucionalização da videoarte;
- Perspectivas historiográficas sobre a arte do vídeo no sul global;
- Estudos sobre os usos não hegemônicos do vídeo que foram, inicialmente, menosprezados pela história da arte (o documentário, as redes comunitárias); e sobre os usos contra hegemônicos contemporâneos, em especial as práticas forenses.
- O vídeo como ferramenta reflexiva da história. Relações entre a videoarte, o cinema de arquivo/found footage e os primeiros cinemas. Montagem, colagem e apropriação.
- Reflexões sobre como a videoarte incorpora ou confronta o desenvolvimento tecnológico; como se relaciona, de modo crítico, com outras linguagens digitais como a internet, o videogame, a inteligência artificial e o 3d;
- Perspectivas sobre sobre videoarte e arte pós internet.
O prazo para submissão é o dia 8 de julho de 2025. Os artigos devem seguir o modelo para submissão e as normas editoriais da Revista Alceu.
Referências bibliográficas
BAIGORRI, Laura (org.). Video en América Latina. Una historia crítica. Madrid: Brumaria, 2008.
BALSOM, Erika. After Uniqueness: A History of Film and Video Art in Circulation. Nova York, Columbia University Press, 2017.
BATTCOCK, Gregory (org). New Artists Video: A Critical Anthology. Nova York, E.P. Dutton: 1978.
______________; Peleg, Hila. (orgs) Feminist Worldmaking and the Moving Image. Cambridge: MIT Press, 2022.
BISHOP, Claire. Digital Divide: Contemporary Art and New Media. Artforum, New York, v. 51, n. 1, sep. 2012.
BLOOM, Ina. The Autobiography of Video: The Life and Times of a Memory Technology. Londres: Sternberg Press. 2016.
DANIELS, Dieter; Thoben, Jan. (orgs). Video Theories: A Transdisciplinary Reader. Nova York: Bloomsburry Academic, 2022.
DOULAS, L. Within Post-Internet, pooool.info, 2011. Disponível em: <https://languageoftoday.wordpress.com/2012/05/12/post-internet-pt-2/>.
FARKAS, Solange O. e Martinho, Teté (org.). Videobrasil: Três Décadas de Vídeo, Arte, Encontros e Transformações. Edições Sesc São Paulo e Associação Cultural Videobrasil, 2014-2015.
FREIRE, Cristina (org). Walter Zanini: escrituras críticas. Anna Blume, São Paulo, São Paulo, 2013.
HANHARDT, John G (org). Video Culture: A Critical Investigation. Nova York: Peregrine Smith Books: 1990
HAYDE, Malin Hedlin. Video Art Historicized: Traditions and Negotiations (Studies in Art Historiography). Londres: Routledge, 2016.
JESUS, Eduardo de (org). Walter Zanini: Vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte. São Paulo: Martins Fontes. 2018.
JUHASZ, Alexandra. Video remains: Nostalgia, technology, and queer archive activism. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, v. 12, n. 2, p. 319-328, 2006.
LA FERLA, Jorge; REYNAL, Sofía. (org.) Territorios Audiovisuales: cine, video, televisión, documental, instalación, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos. Buenos Aires: Libraria, 2012.
MACHADO, Arlindo (org.). Made in Brasil – três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras, Itaú Cultural, 2007
MANOVICH, L. The Language of New Media, MIT Press. 2000.
OSBORNE, P. Anywhere or Not At All: Philosophy of Contemporary Art. London: Verso, 2013.
ROSLER, Marhta. (2016). Vídeo: expandindo o momento utópico. Revista Concinnitas, 2(11), 2016, 155–175.
SODRÉ, M. A televisão é uma forma de vida (entrevista). Revista FAMECOS, Porto Alegre, no 16, dezembro 2001. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/vie w/3135>.
STEYERL, Hito. Um excesso de mundo. A internet está morta? Revista Poiésis, 23(40), 2022, 216-229.
STEYERL, Hito. Em defesa da imagem ruim. Trad. Alexandre Barbosa de Souza. In: Revista Serrote no 19 março 2015, pp. 185-199.
SUNDARAN, RAVI. Pirate Media. In KUO, M.; COMER, S. Signals: How Video Transformed the World. Nova York: MoMA, 2023. pp. 109-117.
TERRANOVA, T. Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy. In: Social Text, 63 (Volume 18, Number 2), Summer 2000, pp. 33-58.
ZIELINSKI, Siegfried. Arqueologia da Mídia. Em busca do tempo remoto das técnicas do ver e do ouvir. São Paulo: Annablume, 2006.
* Editoras convidadas do dossiê:
Patrícia Mourão de Andrade é ensaísta, curadora de cinema e pesquisadora. Pós-doutoranda no Instituto de Artes da Unicamp, com bolsa FAPESP e, atualmente, pesquisadora visitante no Graduate Center da City University of New York (CUNY). Doutora em cinema pela USP, com bolsa sanduíche na Columbia University. Sua pesquisa versa sobre as relações entre arte e cinema.
Bia Morgado é professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais, do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, onde leciona as disciplinas videoarte e arte eletrônica. Coordenadora do MediaLab UnB – Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas. Pós-doutora, com bolsa CAPES, e Doutora pelo PPGCOM UFRJ, na linha Tecnologias da Comunicação e Estéticas, com bolsa CNPq. Realizou estágio de doutorado-sanduíche na University of Essex, na Inglaterra, com bolsa FAPERJ. Atua como artista, professora, pesquisadora e curadora.
Darks Miranda é o nome artístico da cineasta, montadora e artista plástica Luisa Marques, formada em Cinema e Vídeo pela Universidade Federal Fluminense e doutoranda em Linguagens Visuais na Escola de Belas Artes da UFRJ. Participou de exposições em instituições como MAM – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Centro Internacional das Artes José de Guimarães (Portugal), Tate Modern, Londres (Reino Unido), Centro de Cultura Digital CDMX (México), Centre Georges Pompidou, Paris, (França) e Fundação Iberê Camargo (RS). Em 2024 foi residente e bolsista pelo The Swiss Arts Council Pro Helvetia e mais recentemente participou da 14ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre.